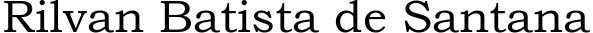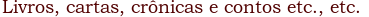Nela- R.Santana
Não sei se o nome dela era Nelha, Nélia, Agnela, apelido ou mesmo Nela. Quando a conheci, eu tinha 5 ou 6 anos de idade, ela deveria ter menos de 30 anos de vida. Nela era alta (sem ser espigão), corpo longilíneo, cabelos castanhos ondulados, olhos verdes esmeraldas, pele europeia, enfim, uma deusa grega, mas era italiana de nascimento.
Tudo começou quando meu tio Pedro e “mãe” Judite resolveram aventurar a vida no Sul do País, eles escolheram Porecatu, cidadezinha do Paraná. Naquela época, a cana de açúcar era responsável pela riqueza da região. A cana de açúcar cobria milhares de hectares de terra, era a lavoura principal, a única.
Tio Pedro não tinha costume de trabalhar em roça e “mãe” Judite foi trabalhar de doméstica numa casa rica e tio Pedro foi trabalhar no bar, restaurante e sorveteria de Nela, o único da cidade. A freqüência era ótima, a cerveja, o whisky e a cachaça pura de alambique e os petiscos deixavam os bebedores com vontade de virar a noite.
Na minha ingenuidade de criança, pouco e pouco, fui sabendo das coisas: ela era viúva, não queria saber de casamento e não se desgrudava dum revólver 38 luzídio no bolso do vestido ”tubinho” colado ao corpo fulgurante. Seu casamento não lhe deixara filhos, talvez, a causa de seu gênio irascível e temperamento dominante.
Porém, não existe coração duro para que um coração ingênuo de uma criança não amoleça... Eu tinha os mesmos traços físicos dela: branco, olhos verdes, cabelos de milho verde, nordestino com traços europeus. As pessoas perguntavam a Nela se eu era seu filho, quando não era conhecido, ela dizia “sim”. Eu sentia-me bem que Nela fosse minha mãe de verdade, não de mentira.
Tio Pedro adquiriu sua confiança e passou administrar o trabalho do pessoal da cozinha e os garçons. Embora fosse o chefe, ele se sentia como um deles, por isto, a produtividade e a receita aumentaram, porque todos trabalhavam com gosto, Nela esporadicamente ia ao restaurante, chegava e saía como cliente e nada esmiuçava.
Nela possuía uma “Fobica, modelo Ford”, o luxo do luxo, bancos de couro e rodas enraiadas douradas. Fobica toda vermelha com detalhes pretos. Porecatu, naquela época, contavam-se as ruas, todo mundo se conhecia, todo mundo era amigo de todo mundo, cidade bairrista, o forasteiro levava tempo pra ser aceito. Nela me colocava no assento da frente (não havia cinto de segurança), mas suportes para segurança e proteção.
O Natal lá foi um dia dos mais felizes de toda minha vida. Acostumado com carrinhos feitos de lata de óleo de comida, nesse Natal, quando me acordei, estendido sobre a cama um conjunto de roupas para vesti-las na Missa do Galo e Ano Novo e, embaixo da cama à altura dos pés um velocípede amarelo com detalhe vermelho. Para mim um sonho e não realidade.
Diz o provérbio popular: “Não há bem que sempre dure, nem mal que nunca se acabe...” , final de janeiro daquele ano, tio Pedro e “mãe Judite” deram saudade de Itabuna e comunicaram à Nela que iam voltar pra Bahia. Ela só faltou se ajoelhar para que eles ficassem, mas em vão, a saudade dos amigos, parentes, era mais forte.
Na casa do sem jeito, ela implorou pra que me deixassem como adoção, porém, o orgulho de gente pobre é mais enraizado, nem pensar naquela proposta. Eu chorei, estrebuchei-me, fiquei doente, porém, eles trouxeram-me de volta para vida medíocre, paupérrima.
Acho que Nela e eu nunca nos esquecemos, o destino é injusto e mau!...

Autor: Rilvan Batista de Santana
Licença: Creative Commons
Membro da Academia de Letras de Itabuna - ALITA
Alterado em 28/12/2023