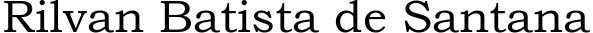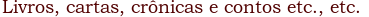Jupará
R. Santana
R. Santana
Não o conheci pessoalmente. Depois de adulto vi sua fotografia em um semanário da cidade. Era um gigante, um quasimodo à Notre Dame de Paris do genial Vítor Hugo, um monstrengo. Não sei também, se sua alma era tão feia. Sei que ele fazia parte do perigo imaginário de todas as crianças de Itabuna e cidades vizinhas, principalmente, quando uma mãe queria por limite na desobediência do filho: - se não tomar o remédio vou chamar Jupará! – Aí, o horror invadia o pobre coitado e ele tomava até óleo de rícino (um laxativo que o indivíduo enguia os bofes para tomá-lo), um remédio que era usado para purgar todas as lombrigas e parasitos do intestino da criançada.
Jupará era um mal necessário. Naquela época, o meio rural era inacessível para carros. Não havia estrada, eram os ramais e os caminhos que davam acesso às fazendas e buraras de cacau. Eram os burros e os cavalos, os meios mais usados de transporte. Os fazendeiros preferiam os burros por serem animais mais argutos e por terem uma sensibilidade e um faro aguçados para o ataque imprevisível de animais nocivos ao homem, como os picos-de-jaca, as jararacas, as onças e outros animais não menos nocivos e nem menos ferozes. Além disso, ninguém tinha coragem para colocar sobre a sela de um animal, um caixão de defunto e embrenhar-se, à noite, mata adentro como fazia Jupará. Ele prestava esse serviço fúnebre no meio rural, na periferia da cidade, com tanta presteza e doação na hora da dor e perda de um ente querido, que para aquela gente sofrida, Jupará era um ser querido e disputado.
Era uma ave agoureira, tinha um instinto tão apurado que descobria um moribundo a quilômetros de distância. E, quando ele começava rondar a casa de um doente terminal, tinha-se certeza que o desfecho era iminente. Às vezes, ele era evitado por muitas famílias supersticiosas.
Havia um boato que Jupará era um necrófilo, tinha uma atração sexual mórbida por defunto. Que muitas virgens tinham sido defloradas depois de mortas. Ninguém sabe se esses boatos eram verdadeiros, todavia, eles povoavam o imaginário daquelas pessoas simples e supersticiosas.
Naquele tempo não havia sala de velório. O corpo era velado na sala da casa da família. Quando ocorria um velório de um indivíduo abastado, a família contratava duas ou três carpideiras que com seu choro triste e as ladainhas cantaroladas, formavam um cenário lúgubre e melancólico. No meio da noite, a família do falecido, distribuía bebida alcoólica e comida aos presentes, era muito comum ouvir a expressão: “vamos beber o defunto!” Quando era uma família muito religiosa, ao invés de bebida alcoólica, servia-se suco de fruta, café, bolo de aipim, bolo de ovos ou bolo de puba; então, biscoitos e torradas.
Conta-se que Jupará tinha sido contratado para levar um caixão de defunto numa fazenda cinco ou seis léguas distantes da cidade de Itabuna. Quando deixou a cidade, já anoitecendo, embrenhou-se mata adentro, mas era uma noite de breu, dentro de uma mata fechada, ficou sem norte. Abriu a tampa da urna funerária, deitou-se dentro da dela, colocou a tampa por cima e adormeceu.
Pela manhã, quando os trabalhadores em fila indiana, apontaram na vereda, para podar os cacaueiros e fazer o serviço de broca para novas plantações, avistaram de longe o caixão de defunto à beira do caminho. Numa reação instintiva e medrosa, começaram esgueirar-se e passar por longe da estranha e indesejável peça mortificante. Quando todos já tinham passado e estavam a duas varas de distância, de repente, levanta-se aquele gigante do caixão funerário e grita com eco:
- Eh! Vocês têm fumo aí? – Foi como se tivesse tido um estouro da boiada, como se o diabo tivesse aparecido em pessoa. Largaram facão, foice, enxada, estrovenga, tudo no chão, partindo dispersos dentro da mata, levando nos peitos tudo que encontrava. Soube-se depois que alguns trabalhadores ficaram tão estropiados que ficaram alguns dias de molho, sem trabalhar.
Doutra feita, ele passou a noite sozinho velando o corpo de uma pobre viúva que não tinha filhos e nem aderentes. No outro dia, ele e mais quatro filhos de Deus, transladaram o corpo dessa pobre mulher para o cemitério da cidade de Macuco que distava uns seis quilômetros de onde a viúva morava. Foi assim através do trabalho mórbido, trabalho que ninguém queria fazer que o mito Jupará fosse construído no imaginário popular. Histórias horríveis e crendices fizeram desse maluco ou desse enviado dos céus, um ser adorado pelos necessitados, repudiado e achincalhado por quem nunca precisou dele.
Coitado!... Depois de acudir centenas de famílias no momento de dor e desespero, numa época em que a rede e o banguê serviam para transportar doentes, moribundos e mortos, acabou-se miseravelmente, ultrajado e esquecido. Todavia, no livro das histórias extravagantes e excêntricas de Itabuna, Jupará terá seu nome imortalizado e lembrado. E far-se-ia justiça histórica se esse benemérito anônimo tivesse seu nome de batismo resgatado e não o apodo que lhe colocaram para justificar suas excêntricas atitudes de notívago que como o macaco jupará, conhecido pelo vulgo de macaco-da-meia-noite, vagava sem rumo dentro da mata.

Autor: Rilvan Batista de Santana
Licença: Creative Commons
Academia de Letras de Itabuna - ALITA
Imagem ilustrativa: Google
Rilvan Santana
Enviado por Rilvan Santana em 06/06/2012
Alterado em 16/11/2024
Alterado em 16/11/2024
Comentários